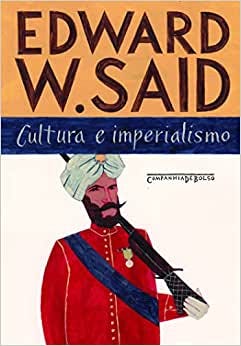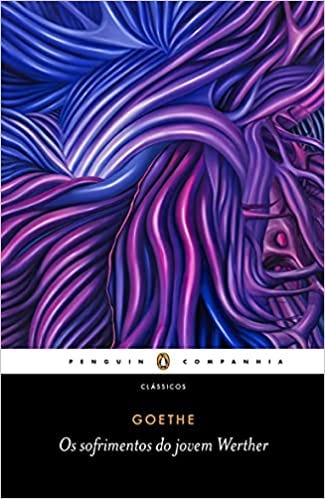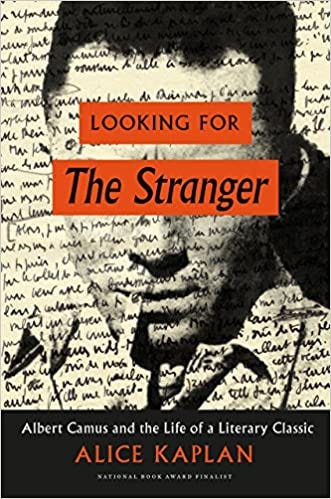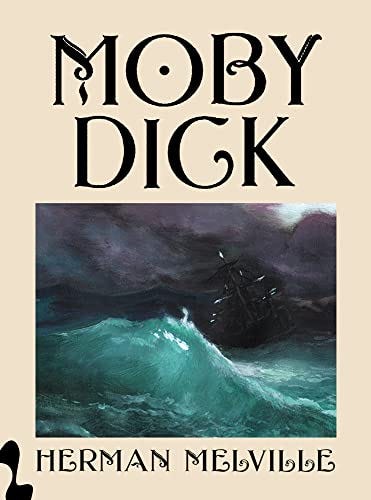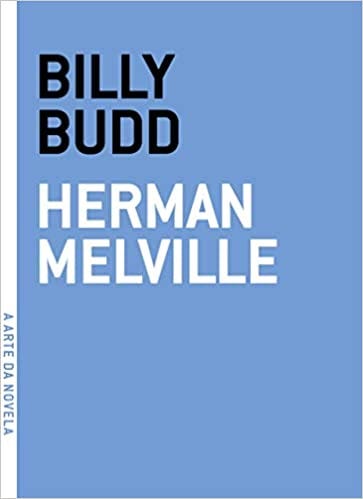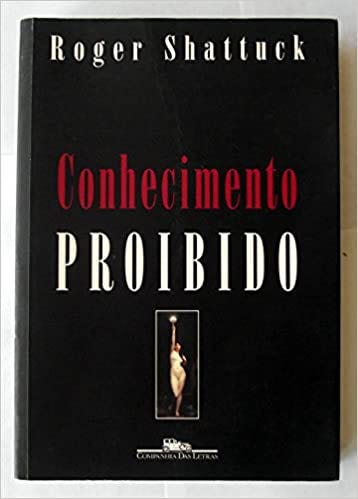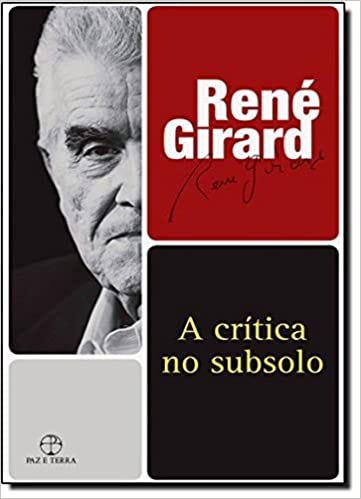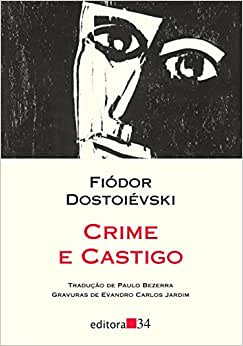O Estrangeiro, de Camus: quando a Empatia nos bloqueia a Verdade
Às vezes, um excesso de Empatia pode nos impedir de enxergar a Verdade. (Reflexões sobre a Prisão Verdade.)
O Estrangeiro, de Albert Camus (1942), demonstra as limitações da empatia e da verdade: todo o romance é construído para ativar nossa empatia em benefício de um personagem e, assim, nos impedir de ter acesso à Verdade sobre ele: que é um assassino frio e apático, merecedor de sua punição. O romance ilustra perfeitamente como a empatia pode ser traiçoeira: muitas vezes, estamos tão dentro da outra pessoa, tão perto, somos tão compreensivas, tão empáticas... que nos tornamos incapazes de enxergar a Verdade sobre ela. Uma empatia mal direcionada pode nos fazer sentir pena de um assassino frio e apático, ao mesmo tempo em que nos torna cúmplices na invisibilização de suas vítimas. Catorze anos depois, em A Queda (1956), Camus escreve um livro que é, na prática, uma autocrítica, o anti-Estrangeiro e nos permite, inclusive, entender e apreciar melhor o romance anterior.
Todo mês, na segunda quarta-feira, às 19h, dou uma aula de literatura ou de História para as pessoas mecenas do meu Apoia-se. Essa é aula de fevereiro de 2023, que acontece hoje, 8 de fevereiro, às 19h. Como fevereiro é o mês da Verdade no Curso das Prisões, o texto também faz uma ponte com os temas discutidos na Prisão Verdade. No texto abaixo, a apresentação resumida de alguns dos temas que serão desenvolvidos na aula. Se você gostou, se foi útil, por favor, considere fazer uma contribuição em dinheiro: é disso que eu vivo e você estará me ajudando a dar outras aulas para outras pessoas. Pix: eu@alexcastro.com.br / Apoia-se: apoia.se/alexcastro
* * *
O Estrangeiro, de Camus
Na Argélia colonial francesa, um homem mata outro por motivo absolutamente fútil. Pior que fútil. Não havia motivo algum. Ele recebe um julgamento aparentemente justo e é condenado à morte de acordo com as leis locais. Nada poderia ser mais direto, simples e previsível. Abaixo, um rápido resumo.
Mersault é um pequeno funcionário público, sem ambições, sem grandes interesses, que vive uma vida banal de pequenos prazeres: ir a praia, ir ao cinema. Ele recebe um telegrama de que sua mãe morreu num asilo. Ele vai lá, enterra a mãe, e, na volta, vai à praia, encontra uma moça, vai no cinema com ela, dormem juntos.
Mais tarde, seu vizinho, Raymond, meio cafetão, quer esculachar sua namorada árabe que tinha terminado com ele e pede que Mersault lhe ajude a escrever uma carta atraindo-a de volta. O plano do vizinho é fingir que a quer de volta, transar com ela uma última vez e, então, cuspir na cara dela. Mersault não vê nada de errado nesse plano e aceita colaborar com ele, escrevendo a carta. Quando o vizinho dá a cuspida, a moça lhe devolve um tapa e ele lhe dá um surra tão violenta que atrai a polícia. Nada acontece, claro, homem branco colonial surrando mulher árabe, mas três árabes, um deles irmão da moça, começam a seguir o vizinho. Mersault e Raymond vão passar o fim de semana em uma casa de praia e os árabes estão lá. Acontece uma confrontação tensa na praia, o vizinho está armado, Mersault pede a arma a ele, pra ele não fazer nenhuma loucura, Raymond troca socos com um dos árabes e fica por isso mesmo. Mais tarde, Mersault está andando sozinho pela praia, ainda armado, e encontra um dos árabes deitado na areia, o irmão da moça. Ele se levanta e, ainda distante, puxa uma faca. Mersault saca a arma e dá quatro tiros nele. Não foi trocada nenhuma palavra. A vítima nunca é nomeada. Por que Mersault atirou? Por que não deu meia volta? Por que não apenas ameaçou? Não se sabe.
Mersault é preso. No seu julgamento, o promotor levanta todas as suas pequenas excentricidades e quebras de normas sociais, como não ter chorado no enterro da mãe, ou ter ido à praia e ao cinema no dia do enterro da mãe. O júri de pessoas francesas brancas fica claramente mais escandalizado com isso do que com a morte de um árabe por motivo fútil nas mãos de um francês e condena Mersault à morte. O romance termina na véspera de sua execução.
O problema do livro está na sua leitura e recepção por parte das pessoas leitoras. Seduzidas pela narração aparentemente simples e sincera, sem firulas e sem afetação, do narrador-assassino Mersault, as pessoas leitoras acabam lhe perdoando tudo. Ao final do livro, a leitora média sacode a cabeça e diz:
“Que absurdo! Julgado e condenado por não ter ido ao enterro da mãe!”
Dá a impressão de que o romance é sobre um pobre e injustiçado rapaz, incompreendido pela sociedade e condenado por um crime que não cometeu. Uma vítima inocente do sistema! (Tudo indica, aliás, que foi essa a intenção do autor ao escrever o livro.)
Ficamos tão concentradas nos esforços aparentemente hipócritas da promotoria em condenar Mersault não pelo crime, mas por ter ido ao cinema no dia da morte da mãe, que esquecemos que Mersault cometeu, de fato, o crime pelo qual está sendo acusado! Ele matou sim uma pessoa (não um “árabe”, uma “pessoa”), de modo fútil e intempestivo, nunca demonstrou nenhum arrependimento e, com certeza, merece a pena que a lei reserva para tal crime: no caso, a guilhotina.
A narrativa traiçoeiramente simples faz parecer que o promotor provou seu caso por vias tortas, usando argumentos que nada tinham a ver com o crime, mas ele não tinha outra opção. Afinal, Mersault matou sua vítima por impulso, eles nem se conheciam, nunca trocaram uma palavra. Portanto, não havia nenhum elemento do crime a se explorar, nenhuma relação possível entre assassino e vítima. Só restava ao promotor colocar a vida de Mersault em julgamento e mostrar que ele era o tipo de pessoa capaz de matar alguém tão futilmente.
Mais importante, nós, leitoras, sabemos que Mersault merece sua punição. Ou, pelo menos, deveríamos saber. Por que nos permitimos esquecer isso?
* * *
A estratégia do promotor
Em uma das aulas que dei sobre esse livro, um dos alunos, advogado, chamou atenção para o seguinte fato jurídico: o promotor literalmente não tinha outra opção a não ser colocar a vida pregressa de Mersault em julgamento.
Ele mata sua vítima por puro impulso, ambos não se conheciam, não trocaram uma palavra. Não havia nenhum elemento do crime a se explorar, nenhuma relação possível entre assassino e vítima. Só restava ao promotor colocar a vida de Mersault em julgamento e mostrar que ele era o tipo de pessoa capaz de matar alguém tão futilmente. Abaixo, o email do meu aluno:
“Ter ido ao cinema no dia da morte de sua mãe mostra um Mersault frio. Indiferente à vida. Um Mersault que pode ter matado o árabe com a frieza de quem esmaga um inseto. Esta argumentação constrói a imagem do monstro. O acusado é inocente até que se prove sua culpa. Qualquer dúvida na culpabilidade implica a inocência. Ora, ninguém mata ninguém sem motivo, esse pensamento é absurdo. O promotor o acusa de ter ido ao cinema por que isso FOI um crime muito maior que ter matado o árabe. Ninguém no juri saberá por que motivos Mersault matou o árabe. O promotor tem de expor os motivos do crime. Não havendo motivo, existe uma dúvida razoável sobre o crime, e Mersault está livre. Porém, se Mersault despreza a vida humana de forma monstruosa, despreza até mesmo a vida de sua própria mãe a ponto de ir ao cinema, então não resta dúvida de que ele pode ter matado o árabe sem motivo nenhum. E aí ele estará condenado pelo crime que efetivamente cometeu. O que pode parecer uma argumentação distorcida, na verdade é uma argumentação genial do promotor e uma crítica fabulosa ao sistema.”
Outra teoria de aluna: que talvez Mersault tivesse sido vítima de uma armação de Raymond, que, ele sim, tinha interesse no crime. Mas quem pede a arma de Raymond é o proprio Mersault, ostensivamente para evitar que Raymond caia na tentação de usá-la e cometa uma loucura.... a exata loucura que Mersault acabará cometendo!
* * *
O Estrangeiro, romance colonial
Camus era o que se chamava de pied noir (pé negro) ou petit blanc, (pequeno branco), ou seja, um francês branco que nasceu, cresceu e se criou na Argélia, colônia da França desde 1830.
Camus nasceu e cresceu pobre e se beneficiou das oportunidades que o sistema de ensino francês abria para franceses brancos como ele. Era homem de esquerda, escritor combativo, e arriscou a vida editando um jornal clandestino da Resistência durante a ocupação alemã da França. (Vários de seus colegas de jornal foram capturados e executados.) Mais tarde, quando o editor de um dos jornais colaboracionistas, foi condenado a morte, Camus participou de um abaixo-assinado para salvar sua vida. De qualquer modo, para a geração de Camus, estava claro que palavras tinham peso e eram uma questão de vida ou morte.
Depois de 1945, o mundo vive uma verdadeira onda decolonial. A Indochina se rebela contra a dominação francesa em 1946, sob o comando de Ho Chi Minh, ex-garçom na Lapa carioca, dá uma das mais memoráveis sovas militares que uma ex-colônia deu em qualquer metrópole na batalha de Dien Bien Phu, em 7 de maio de 1954, conseguindo assim sua independência. O Império Britânico se esfacela: entre o fim da guerra, 1945, e a morte de Camus, 1960, se tornam independentes Índia, Bangladesh, Paquistão, Gana, etc. Ou seja, a descolonização das antigas colônias européia não era um movimento marginal, mas uma verdadeira onda da história contra a qual nenhuma metrópole conseguiu resistir. (Deixa eu repetir: vale a pena ler as aventuras de Ho Chi Minh na Lapa.)
Na Argélia de Camus, a situação era particularmente tensa. Colônia francesa desde 1830, ela foi palco de uma colonização intensa de franceses metropolitanos brancos, os pied noir, como Camus, que construíram lá uma “civilização francesa” a parte da massa árabe nativa do país.
A tensão entre franceses e árabes esteve sempre a ponto de ferver. Inclusive nas praias. Em 1942, ano de publicação de O Estrangeiro, o prefeito da cidade balneário de Zeralda, onde já havia um cartaz dizendo “Cavalos e cachorros não permitidos”, adicionou um novo cartaz, logo embaixo, “Árabes e judeus não permitidos”. Jovens árabes não se conformaram e levaram para o pessoal: invadiram a praia (que, afinal, estava em seu próprio país!) e promoveram um quebra-quebra, especialmente daquelas cabaninhas de trocar de roupa. Em retaliação, o prefeito e a polícia saíram prendendo violentamente todos os árabes que encontraram, na praia ou próximo dela, inocentes ou culpados, envolvidos ou não. Quarenta pessoas foram jogadas numa única e minúscula cela. No dia seguinte, vinte e cinco estavam mortas: a polícia não tinha nem se preocupado em registrar seus nomes quando as prenderam. No mesmo ano, um europeu matou a tiros um árabe que estava perto da sua casa, pois achou que ele iria invadi-la. O árabe não tinha feito absolutamente nada a não ser estar parado perto da casa dela. Não dormiu nem uma noite na prisão, para ira da população árabe. Casos como esses eram tristemente comuns.
(É importante ter esse contexto em mente ao ler O Estrangeiro. Camus vivia em um país onde um europeu matar um árabe por motivo fútil não acarretava normalmente punição alguma. Daí ele poder afirmar, de consciência limpa, que Mersault só foi condenado por ter ido à praia no dia do enterro da mãe. Quando dava cópias de O Estrangeiro para amigos, ele escrevia na dedicatória: “Se não quer ser condenado a morte, faça questão de chorar no enterro da sua mãe.”)
Em 1945, o massacre de Setif realmente acirra os ânimos e é considerado por muitos como o verdadeiro começo da guerra colonial. A polícia mata um manifestante só por estar com a bandeira argelina. No caos que se segue, 100 franceses morreram e, em represália, entre cinco mil e quinze mil árabes na repressão que se seguiu. Depois disso, não haveria mais paz na Argélia.
(Do nosso ponto de vista, é chocante que os franceses que tinham acabado de sofrer esse tipo de repressão nas mãos da ocupação nazista da França não se deem conta de que estavam fazendo literalmente a mesma coisa. Mas, claro, pra eles, os argelinos não eram gente.)
A guerra em si começa em 1954 e ainda estava acontecendo quando Camus morre, em 1960. Foi tão cruenta que derrubou o governo da França em 1958 e trouxe de volta De Gaulle, com a promessa de encerrar a guerra. Em 1962, ele ordena a retirada total das forças francesas e a Argélia se torna enfim independente. Estima-se que houve 400 mil mortos. Cerca de um milhão de pied noir escolhem “voltar” para uma França que muitos nem mesmo conheciam, porque a opção de viver numa Argélia livre, sua terra natal!, mas sob o controle dos árabes que eles tinham explorado por 130 anos, lhes parecia intolerável demais.
A quase totalidade da obra de Camus, com pouquíssimas exceções, como o romance A Queda, do qual vou falar bastante, se passa nessa Argélia colonial francesa onde os árabes simplesmente não existem enquanto pessoas com subjetividade humana. Eles estão ali, como pano de fundo, como bicho-papão, como massa de manobra, mas nunca como personagens. Em toda a obra de Camus, quase toda passada em uma Argélia habitada em sua gigantesca maioria por árabes, nenhum árabe nunca fala. (Aliás, Camus também nunca se preocupou em aprender nem uma única palavra de árabe.) Todos os personagens de sua obra fazem sempre parte da minoria colonial branca.
Em O Estrangeiro, árabe é a moça que Raymond esculacha e árabes são o irmão dela e seus amigos que seguem Raymond e Mersault. Mas quem são? O que pensam? O que têm a dizer? Não sabemos. Por tudo que Mersault se interessa em saber e nos contar sobre eles, os árabes que os seguem pela rua poderiam ser cães vira-latas seguindo humanos porque farejaram comida. A Orã de A Peste é como se fosse uma cidade européia. Existem árabes aqui e ali, mas não vemos nem ouvimos falar de árabes morrendo, como se fossem imunes à peste... ou como se simplesmente não importasse se vivem ou se morrem.
Provavelmente não era nem algo consciente. Todo o projeto colonial francês, toda a existência concreta dos pied noir se fundava nessa lógica, de criar uma pequena Europa na África ou na Ásia, viver como se estivessem na Europa, e tentar não pensar muito nos habitantes originais dessa terra, que eram, na pior da hipóteses, bárbaros assassinos bichos-papões, ou, na melhor, animaizinhos inócuos que deveriam estar lambendo os beiços, e trabalhando de graça, para agradecer toda a civilização que tinha sido trazida para sua terra e cujos benefícios deveriam estar respingando neles. Especialmente para os pied noir pobres, como Camus e o entorno social imediato da sua infância, sua brancura e “francesidade” eram praticamente seus únicos ativos em uma vida pobre e dura.
Camus, combativo homem de esquerda, passou toda a vida denunciando os excessos do sistema colonial... mas nunca denunciou o sistema colonial em si. Ele não era cego às violências do sistema colonial, mas era muito mais sensível às violências do outro lado. Quando ganhou o Nobel em 1957, e a guerra colonial já durava três anos, ele afirmou:
“Preciso denunciar o terrorismo atual acontecendo nas ruas de Argel, que um dia pode atingir minha mãe ou alguém da minha família. Acredito na justiça, mas defendo minha mãe acima da justiça.”
Nenhuma palavra de simpatia para legitimar a luta de um povo contra invasores que ocupavam seu país há 130 anos, apenas a preocupação de como essa luta o afetaria pessoalmente. O olhar vazio e sem empatia alguma de Mersault para os árabes era provavelmente o mesmo de Camus e de todos os seus pares, seus compatriotas nessa civilização francesa construída na África.
Dois anos depois da morte de Camus, essa civilização, esse mundo retratado em quase toda a sua obra, que parece tão sólido apesar de estar em retração no mundo inteiro e claramente condenado, já não existia mais. Era História.
Em 1961, no auge da Guerra da Argélia, Camus recém-morto, o jovem historiador Pierre Nora sugeriu que Mersault, ao matar o árabe sem lhe dar nome nem voz, estava na verdade representando e incorporando o desejo dos pied noirs, como Camus, de matar todos os árabes e ficar com seu país.
Dito assim, e já sessenta anos atrás, parece bastante óbvio. Por que então O Estrangeiro continua sendo lendo e ensinado como se fosse sobre “a condição existencial humana” e não sobre uma situação colonial bem concreta e contextualizada? É justamente esse um dos grandes privilégios do homem branco: poder ser só um indivíduo, poder falar em nome da “condição existencial humana”, enquanto as populações subalternas, pelo contrário, nunca são individualizadas, falam sempre em nome de seu grupo e representam seu contexto social e histórico. Não é à toa que Mersault e Raymond têm nome, têm subjetividade, têm história, e os árabes são só árabes sem nome, identificados por sua etnia e nada mais.
O romance O Estrangeiro, o narrador Mersault, a própria vida de Camus, ilustram os perigos da empatia. Não faltava empatia a um homem que passou a vida inteira defendendo os mais fracos, lutando por causas de esquerda, escrevendo um jornal clandestino durante uma ocupação nazista. Mas era empatia por quem ele via como seus iguais: os pied noirs da Argélia, os franceses da metrópole. Não havia espaço no olhar empático de Camus para a gigantesca maioria da população do país que ele amava e considerava seu lar.
É por isso que pedir, clamar por mais empatia é completamente inócuo. Todo mundo tem empatia por quem vê como seu igual. O problema não é ter mais ou menos empatia, mas empatia por quem? O problema a resolver não é a quantidade ou intensidade da empatia que sentimos, mas o seu direcionamento.
(A última Prisão do Curso das Prisões será justamente a Prisão Empatia, onde vamos explorar essa questão mais a fundo.)
(Bellos, Kaplan)
* * *
Copycats de Mersault
O Estrangeiro foi um enorme sucesso. Assim como Os sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, ocasionou uma onda de suicídios pela Europa, alguns assassinatos foram atribuídos ao romance de Camus. O primeiro já em 1948, seis anos depois da publicação: Claude Panconi, um jovem aluno do Ensino Médio, matou seu colega Alain Guyader, em Melun, perto de Paris. Ele não disse, como Mersault, que “o sol me fez matar” mas sim “Mersault me fez matar”. Segundo ele, os juízes só entenderiam o seu ato se entendessem o ato de Mersault, que, assim como ele, tinha assassinado sem ódio.
O pai da vítima escreveu a Camus uma carta desesperada implorando que ele deslegitimasse essa defesa literária inspirada em sua obra. Se Camus negasse que um livro pudesse ter esse efeito, o assassino teria que reconhecer sua responsabilidade pelo crime.
Camus negou essa possibilidade, mas também se negou a atender o pedido de se manifestar publicamente ou em juízo:
“Ao mesmo tempo em que nego firmemente, sem exceções, que O Estrangeiro possa incitar crimes, eu também afirmo que esse livro, como todos meus outros livros, ilustra, a minha própria maneira, meu horror à pena de morte e minha angústia em relação a questões de culpa. Meu trabalho, Monsieur, e digo isso com tristeza, não consiste em acusar pessoas, mas em entendê-las, em dar voz à sua tristeza compartilhada. É por isso que, não interessa o que eu pense, não posso nunca estar do lado da acusação, mesmo se isso fosse salvar minha reputação de artista.”
Aliás, foi o impacto desse caso, que se arrastou entre 1948 e 1951, que fez Camus ter receio de popularizar O Estrangeiro em novas edições acessíveis. Escreveu ele ao seu editor:
“Não tenho interesse em ver O Estrangeiro ampliando o seleto círculo de leitores da edição restrita original. Ao contrário de A Peste, não é um livro para qualquer um. Talvez mais tarde.”
Camus sabia que A Peste, uma ode à resistência, não podia causar danos, mas até mesmo ele sabia que, com O Estrangeiro, talvez tivesse aberto uma caixa de Pandora.
(Kaplan, “A book for everyone”)
* * *
O absurdo de morrer num acidente de carro
Aos 46 anos e no auge dos seus talentos, Camus morreu em um acidente de carro no dia 4 de janeiro de 1960. Ele estava voltando de passar o ano novo em sua casa de campo com a família de seu editor, Michel Gallimard.
O editor, de 42 anos, tinha acabado de comprar um carrão esporte e queria experimentá-lo. Camus estava no banco do passageiro, a esposa e a filha do editor atrás. Num estiradão de estrada, o carro saiu da pista e simplesmente abraçou uma árvore. Camus morreu na hora, o editor alguns dias depois. A esposa e a filha, nada sofreram. Ela contou que o marido de fato estava indo muito rápido e tinha bebido. Conhecedores daquele modelo de carro afirmaram que era muito potente para a época e era fácil de motoristas inexperientes perderem o controle.
A esposa e a filha de Camus voltaram para Paris de trem. Em seu corpo, entre os destroços, estava sua própria passagem, para o mesmo trajeto. Aparentemente, só decidiu de última hora aceitar a carona do editor.
“Não há nada mais absurdo que morrer num acidente de carro”, Camus teria dito. A frase é muito citada da internet, mas não achei a fonte. É bem o tipo de coisa que, depois de sua morte, se inventaria que Camus teria dito. Não deixa de ser verdade.
Um pesadelo recorrente na minha vida é que estou esperando minha carona para algum evento literário, e quando o carro aparece, Camus está no banco do passageiro, e Italo Svevo e Dias Gomes abrem espaço no banco de trás para eu sentar no meio. Quando eu percebo que meu nome não vai aparecer nem no “também morreram”, eu acordo gritando. Tudo ego, naturalmente.
* * *
Matando árabes, matando favelados
Em 1979, Robert Smith, do The Cure, compôs e lançou a musica “Killing an arab”, que era basicamente um resumo de O Estrangeiro, e da cena do assassinato na praia. A letra é excelente e, de fato, parodia perfeitamente o estilo narrativo de Mersault.
Mas é um caso clássico de artista que não se deu conta do poder destrutivo da obra. No Reino Unido, os anos 1970 foram uma década de guerra religiosa e de ataques terroristas, de racismo escancarado e de uma crise econômica sem precedentes. Não era difícil de antecipar que, num país de brancos pobres ressentidos com a imigração de indianos e paquistaneses, que a música acabaria virando grito de guerra de supremacistas brancos.
O The Cure ainda se sentiu obrigado a colocar um aviso na capa do álbum desautorizando conotações racistas. Mas como não ler racismo nisso? O nome da música não era “Matando uma pessoa”, ou “Matando um cara”, era “Matando um árabe”. Nos anos seguintes, em shows ao vivo, o The Cure começou a cantar a música com sutis variações na letra: “Kissing an Arab”, “Killing another”, até mesmo “Killing an Ahab”, misturando O Estrangeiro com Moby Dick.
A letra da música, exatamente por capturar perfeitamente o tom de O Estrangeiro, também não consegue, assim como o livro, impedir que funcione como um convite para efetivamente matar árabes.
Na verdade, poderíamos argumentar que são os supremacistas brancos que realmente entenderam a mensagem central de O Estrangeiro. Errada é a leitura privilegiada branca européia de que esse é um romance sobre o “absurdo”, sobre o “existencialismo”, sobre a “condição humana”, etc.
Os leitores supremacistas brancos e os leitores árabes, periféricos, subalternos, etc, compreenderam a mesma mensagem: que esse é um livro sobre dominação colonial, sobre pessoas brancas matando pessoas marrons como se não fossem nada e só sofrendo qualquer conseqüência legal não pela gravidade do crime, mas por um julgamento moral de suas excentricidades. Os supremacistas brancos celebram e os árabes lamentam, mas ambos concordam que, de acordo com o livro, desrespeitar a memória de uma velha branca morta é claramente mais grave do que matar um árabe.
(Como disse um intelectual argelino: “A gente não lê O Estrangeiro em Argel da mesma maneira que vocês lêem em Paris”, que é o understament do ano, e muito mais contido e polido do que poderia ter sido.)
O que ainda precisa ser explicado é como nós, aqui no Brasil, conseguimos ler o livro e não perceber essa dinâmica racial e colonial.
Um O Estrangeiro brasileiro talvez mostrasse um Mersô branco, morador de Ipanema, matando, em pleno Arpoador, um favelado negro sem nome. E sendo condenado não por esse crime (pelo qual receberia até tapinhas nas costas do PM que foi forçado a levá-lo preso) mas por, sei lá, espirrar sem cobrir a mão.
(Kaplan, “A book for everyone”)
* * *
Billy Budd e Mersault: o perigo da proximidade
Billy Budd obra póstuma de Herman Melville, conta a história do personagem homônimo, jovem marinheiro da Marinha de Guerra inglesa, em operações contra Napoleão. Ele é belo, forte, sensato, um ser humano perfeito: Adão antes da Queda. Um dos oficiais superiores, morto de inveja, acusa Billy de tentar fazer parte de um motim. Billy mata o oficial no ato, deixando o capitão em um doloroso dilema moral: por um lado, ele conhece o valor de Billy e o pouco caráter do oficial, e sabe que as acusações são falsas; por outro, como deixar impune um marinheiro que mata seu oficial superior? O pobre Billy acaba enforcado, mas é tão gente-boa e entende tão bem o ponto de vista do capitão, que suas últimas palavras são vivas a ele e que Deus o abençoe.
Roger Shattuck, em seu excelente Conhecimento Proibido, faz uma comparação entre os casos de Mersault e Billy Budd. Em ambos, temos um crime capital, cometido por impulso, e descrito quase que como um ato de inocência. Ambos assassinos são julgados e condenados à morte. Nenhum tenta se defender, ou sente remorsos ou angústia, e aceitam sua culpa placidamente.
A grande figura trágica de Billy Budd é o capitão do navio, Vere. Homem inteligente e sensível, ele é que tem que tomar a decisão difícil de condenar Billy à morte por seu crime. E ele paga o preço: quando morre, atormentado, poucos meses depois, é o nome de Billy que está em seus lábios. Vere não deixa que as qualidades de Billy o ceguem ao aspecto moral da questão. Já em O Estrangeiro, o capitão Vere somos nós. Nós é que temos a obrigação moral de dar um passo atrás, tentar nos dissociar o suficiente de Mersault para que possamos entender a enormidade do crime que ele cometeu e, portanto, apoiarmos a justiça da punição.
Shattuck cita um ditado francês “Tudo entender é tudo perdoar”. De certo modo, o problema com Mersault é somos tão arrastados para dentro dele que passamos a ver a questão através de seus olhos. E então perdoamos tudo. Em outras palavras, sabemos tanto sobre os personagens e suas motivações que fica difícil (impossível, para a maioria das pessoas leitoras) conseguir formar julgamentos morais independentes. Se o lobo entender o cordeiro, morre de fome: entender tudo é entender que nada poderia ser diferente do que é, ou seja, capitular ao status quo.
Ao nos aproximarmos demais do outro, perdemos nossa perspectiva de humanidade. Ao entrar em outra pessoa e conhecer seus sentimentos e motivações, podemos acabar entendendo e perdoando até atos criminosos ou, pior, nem mesmo reconhecendo-os como criminosos. De certo modo, todos somos culpados de alguma coisa em algum grau. Como então nos arrogarmos o direito de julgar outro?
E fica a provocação: será que há coisas que não podemos saber? Será que excesso de conhecimento pode afetar a justiça?
* * *
Breve aparte sobre dois críticos literários
Conhecimento Proibido, de Roger Shattuck, é um dos melhores livros de crítica literária que já li. Nele, Roger Shattuck explora a noção do Conhecimento Proibido: será que existe conhecimento que não devemos possuir ou mesmo buscar? Para responder essa pergunta, o autor mergulha em leituras moralistas — na melhor acepção do termo — de clássicos universais e chega a conclusões inovadoras e surpreendentes. Graças a Shattuck, reli Frankenstein e O Estrangeiro de modo totalmente diferente e li A Princesa de Cleves e Billy Budd, hoje certamente entre minhas obras literárias preferidas. Obrigado. (A Princesa de Cleves será o tema da minha aula avulsa de novembro de 2023, no contexto da Prisão Felicidade.)
Comprei Conhecimento Proibido em 1998, o meu ano sadeano, quando li quase toda a gigantesca obra do Sade e mais trocentos outros divertidíssimos livros sobre o autor. Eu confesso: Sade é até meio repetitivo mas ler os reprimidos acadêmicos de hoje tentando digerir o indigerível Sade e encaixá-lo em seus esqueminhas mentais é das coisas mais engraçadas que existem. A maior parte dos acadêmicos adota uma atitude submissa e empolgada, falando de Sade como se ele fosse um paladino da liberdade, um verdadeiro santo, que foi perseguido por falar a verdade — como se ele não tivesse cometido todos os crimes que cometeu. Outros, os mais reaças, descem o pau em Sade de forma simplista e nunca tentam entender as nuances de seu pensamento. Já Shattuck dedica um terço do seu livro a fazer um estudo de caso genial de Sade, em que não cai em nenhum desses extremos, apesar de também descer o pau no francês maluco. Comprei o livro por causa desse terço, mas valeu mesmo pelos outros dois terços.
Outro intelectual que mudou completamente minha maneira de pensar e de ler, principalmente de entender o cristianismo e os mitos pagãos, é o francês René Girard. Eu recomendo literalmente tudo o que ele escreve, especialmente Eu via Satanás cair como um relâmpago, que me convenceu que o cristianismo não foi uma força nociva na História humana; A rota antiga dos homens perversos, uma releitura do Livro de Jó, meu favorito da Bíblia, sobre o qual já escrevi aqui; A Violência e o Sagrado, onde ele desenvolve sua teoria mimética aplicada à interação entre os mitos pagãos e o cristianismo; Shakespeare: o Teatro da Inveja, onde aplica essa teoria às peças de Shakespeare; Mentira romântica e verdade romanesca, onde aplica suas teorias à Cervantes, Stendhal, Flaubert, Proust e Dostoievski; e, por fim, A crítica no subsolo, onde continua aplicando sua teoria mimética à obras literárias, dessa vez, de novo, a Dostoievski e também Dante, Hugo e Camus. A próxima subseção é basicamente uma paráfrase do seu magistral artigo “Por um novo processo de ‘O Estrangeiro’”, contido nesse último livro.
* * *
A Queda, autocrítica de Camus
No prefácio à edição norte-americana, de 1955, Camus diz que escreveu O Estrangeiro para mostrar que, se você é o tipo de pessoa livre, que fala a verdade, e que não chora no enterro da sua mãe, a sociedade vai dar um jeito de acabar com você. Ao que René Girard, um dos leitores mais perspicazes de O Estrangeiro, retruca:
“Se Mersault tivesse feito tudo o que fez, mas não tivesse matado uma pessoa, não teria sido possível guilhotiná-lo. O que faz com que ele seja condenado é justamente o fato de ter matado uma pessoa.”
Ironicamente, ambos estão certos. Camus cresceu e viveu em uma Argélia onde europeus brancos rotineiramente matavam árabes e nada acontecia com eles. Então, do ponto de vista da experiência de vida de Camus, um branco como Mersault que matasse um árabe como descrito no romance, quase certamente, sairia ileso, talvez nem preso, certamente não executado.
Então, considerando o objetivo de Camus ao escrever o livro, seu desafio, sua tarefa pode ser descrita assim: “O que um homem branco teria que ser, teria que fazer, para ser condenado à morte na Argélia por um crime tão trivial, tão socialmente aceitável... quanto matar um árabe a tiros?”
No prefácio à primeira edição francesa, de 1942, Camus descreve Mersault como um homem que não joga o jogo, que não mente, e, portanto, faz com que a sociedade se sinta ameaçada. Ou seja, para o autor, incrivelmente, Mersault não era uma figura negativa ou apática, mas algo como um modelo: "um homem pobre e nu apaixonado pelo sol". No já citado prefácio à edição americana, de 1955, Camus é ainda mais explícito em sua interpretação da própria obra: a morte de Mersault seria o fruto podre de uma coletividade podre:
“Na nossa sociedade, um homem que não chora no funeral da própria mãe provavelmente será condenado a morte.”
Girard aponta: Crime e Castigo, de Dostoievski, e O Estrangeiro têm estruturas parecidas, mas uma diferença essencial, Dostoievski escreve para condenar Raskonikov, enquanto Camus, aparentemente, escreve para defender Mersault, ou mais precisamente, o que faz toda a diferença, para condenar sua condenação.
Pois se Mersault é inocente, então seus juízes são culpados por julgá-lo e por condená-lo. Camus escreve toda a sua obra condenando a sociedade “malvada” que julga e condena indivíduos pretensamente inocentes, como Mersault. Em seu romance A Queda, de 1956, porém, ele dá um passo além: reconhecendo que não pode existir esse indíviduo inocente fora da sociedade, Camus condena todo e qualquer julgamento. Daí, A Queda poder ser considerado uma autocrítica de toda sua obra, em especial de O Estrangeiro. É a única das grandes obras de Camus que não se passa na Argélia. Aliás, se passa numa cidade que ele mesmo não conhecia, a não ser por ser o exato oposto de Argel: fria, úmida, nublada.
A Queda é narrado por um advogado francês, Clamance, que abandonou sua prática jurídica na França e se mudou para Amsterdã, onde bate ponto num bar do submundo e defende apenas os piores elementos. Clamance está falando com um homem que conheceu nesse bar suspeito: ouvimos apenas sua narrativa e não os apartes do interlocutor. O que Clamance está contando é justamente a história de sua “queda”, ou seja, como um advogado rico e famoso de Paris foi acabar naquele inferninho de Amsterdã.
Um de seus primeiros comentários, que dá o tom do romance, é quando diz que gostava especialmente de livrar os clientes culpados, a princípio por interesse próprio, claro, para provar que era um bom advogado, mas depois por convicção e por princípios:
“Se todos os cafetões e batedores de carteira fossem invariavelmente condenados, as pessoas de bem se considerariam constantemente inocentes, meu querido. E, na minha opinião, eu sei, eu sei, estou chegando lá!, é isso que deve ser evitado a todo custo. Do contrário, a vida seria uma grande piada.”
Cito o trecho não só para que percebam o quanto o tom, o ritmo, o estilo de Clamence são radicalmente diferentes dos de Mersault, mas também para indicar, por esse pequeno trecho, muito representativo, como esse romance é rigorosamente o Anti-Estrangeiro. Mais tarde, quando descreve a vida pregressa que transcendeu, Clamence basicamente descreve a vida de Mersault: vazia, apática, superficial.
“As pessoas até queriam grudar em mim, mas não havia nada em que grudar. O que era lamentável. Pra elas. Quanto a mim, eu esquecia. Eu nunca me lembrava de nada que não fosse eu mesmo.”
Voltando à Mersault, não cansa de me surpreender como tantos leitores puderam sair de O Estrangeiro com uma visão positiva dele. Um crítico afirmou, num comentário muito repetido e bem representativo:
“O assassinato do árabe é só um pretexto; atrás da pessoa do acusado, os juízes querem destruir a verdade que ele encarna.”
Mas, meu Deus, qual verdade? Mersault é uma pessoa apática, desarticulada, incapaz de defender ou representar qualquer ideal. Qual seria essa verdade? Que europeus brancos na Argélia deveriam poder matar árabes livremente sem sofrer repercussões?
Como Girard enfatiza: de fato, Mersault não chora no funeral da mãe, e é criticado por isso, mas daí à guilhotina vai uma distância enorme. Nem o juiz mais feroz teria podido tocar num fio de seu cabelo se ele não tivesse matado uma pessoa.
Sobre o filme Titanic (1998), paira uma dúvida: “Afinal, Jack e Rose cabiam ou não naquela porta?” Já teve gente que reconstruiu o modelo da porta, refez a cena e provou que sim! Mas, quando começa essa discussão, o diretor James Cameron responde: “Olha, para a trama era fundamental que Jack morresse naquele momento. Se por acaso ambos caberiam na porta específica que usamos naquela cena, então foi erro do departamento de props, que deveria ter feito uma porta menor.”
Camus tinha um desafio semelhante: como escrever um romance sobre um homem que fala a verdade, vive do seu próprio jeito e, por isso, é preso, condenado e executado?
Para se transformar no mártir da liberdade que Camus precisava que fosse, Mersault. precisava fazer algo horrível. Mas, para reter a simpatia das leitoras, ele também precisava ser inocente. Então, o crime tinha que ser, em alguma medida, involuntário, ou seja, não fruto de ódio ou de maldade, mas não tão involuntário que a sentença parecesse um simples erro judicial, sem tragédia, sem pathos.
São essas duas exigências contraditórias que fazem toda a cena do assassinato parecer tão... tão... mal explicada! Se houvesse mais intenção no crime, Mersault perderia nossa empatia. Se houvesse menos, se fosse só um acidente, o drama seria outro: não mais como “a sociedade elimina quem ousa falar a verdade”, mas sim a tragédia de um erro judicial.
Clamance, o advogado-narrador de A Queda parece que vai comentando O Estrangeiro em tempo real. Sobre mártires, ele comenta:
“De que adianta morrer intencionalmente por uma causa? Depois da sua morte, as pessoas vão se aproveitar para lhe atribuir os motivos mais vulgares ou idiotas. Mártires, meu querido, precisam escolher entre ser esquecidos, ser ridicularizados, ou ser usados. Ser compreendidos, nunca!”
Em outro ponto, Clamance também explica porque, do ponto de vista da trama, Camus precisava que Mersault efetivamente cometesse um crime:
“A questão é fugir do julgamento. Não da punição, porque punição sem julgamento é suportável. Ela tem até um nome, que garante nossa inocência: azar.”
Um O Estrangeiro onde Mersault fosse mera vítima de um simples erro judicial não faria sentido algum dentro dos objetivos estéticos de Camus. Mersault, apesar de inocente, precisava ser vítima de suas próprias escolhas, de suas escolhas mais triviais — pois era isso que condenaria seus juízes aos olhos das leitoras.
A medida que vamos lendo a primeira parte de O Estrangeiro, como sabemos que existe uma tragédia se aproximando, cada um daqueles detalhes inócuos parece um foreshadowing da tragédia... pelo simples fato de estar sendo contado. Toda a primeira parte é como centenas armas de Tchecov sendo penduradas: na segunda parte, todas elas, cada um daqueles detalhes, será usado para condenar Mersault. Nós, lendo, sabemos que aqueles detalhes triviais são, bem, triviais, mas a maneira como são apresentados faz com que tenhamos uma sensação de antecipação sinistra.
Camus escreve O Estrangeiro para demonstrar que um homem verdadeiramente livre será sempre perseguido pela sociedade. Que os juízes condenadores estão sempre errados.
E, vejam, eu, Alex Castro, autor do livro Atenção. e da série de textos As Prisões, até concordo com essas afirmações — mas o fato é que Mersault realmente, de verdade, mata uma pessoa por motivo fútil. Ele é condenado e morto por isso, não por ser diferentão. Outros livros efetivamente demonstram essa tese, minha e de Camus, de maneira mais eficiente e sem maniqueísmos, como O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, A Vegetariana, de Han Kang, Querida Konbini e, especialmente, Terráqueos, de Sayaka Murata. (Já falei sobre os três últimos aqui.)
Nas peças gregas da Antiguidade, Deus ex machina era quando tudo no enredo apontava para um final trágico inevitável mas um Deus descia do céu, salvava as personagens e impunha um final feliz completamente implausível. Camus, em O Estrangeiro, inverte essa técnica: ao final de uma primeira parte escrita em chave realista, onde tudo indicava que Mersault viveria o resto da sua vida naquela mesma leseira tediosa até morrer de velhice, o assassinato funciona como um verdadeiro crimen ex machina completamente forçado e implausível, que serve apenas para cumprir a necessidade do autor de que Mersault fosse condenado pela sociedade malvada.
A impressão que ficamos é que, pelo menos para Camus, Mersault é inocente, tão fundamentalmente inocente, tão inocente na sua essência, que não importa quantas pessoas mate, e que a sociedade, que o julga e condena, é malvada, tão fundamentalmente malvada, tão malvada na sua essência, que não importa quantas pessoas Mersault tenha matado para merecer sua punição.
A convicção de Camus na maldade dos juízes era tão forte, tão inabalável, ele tinha tanta certeza que os inocentes seriam inevitavelmente tratados como criminosos que, para demonstrar literariamente essa tese, precisava criar um personagem inocente e, então, fazê-lo cometer um crime. Mas o que ele não percebeu — e é fascinante constatar que tudo o que ele escreveu sobre O Estrangeiro comprova que ele não percebeu mesmo, e a maioria dos leitores também não — é que a partir do momento em que seu herói inocente comete um crime tão horrível... ele deixa automaticamente de ser inocente e passa a merecer, por definição, o castigo que a sociedade lhe impõe, independentemente de o quão malvada é a sociedade, independentemente de o quão frágeis são os pretextos alegados: “você não chorou no enterro da mãe”, etc. É o horror do assassinato fútil que faz com que O Estrangeiro deixe de ser um romance sobre "inconformismo punido" e passe a ser sobre "um castigo bem aplicado".
Confesso que acho difícil de entender o que os leitores veem de positivo em Mersault. Talvez, para quem sofre vítima de emoções ou pensamentos obsessivos, seja atraente ser tão vazio por dentro, ser tão apático e frio. Porque a vida de Mersault de fato é vazia. Vazia de tudo que lhe dê textura, profundidade, significado. Ele não liga pra nada. Não tem afetos verdadeiros. Não tem projetos, objetivos, metas, nem intelectuais, nem sociais, nem religiosas. Ele vive para prazeres imediatos, baratos, superficiais. Não entendo nem o que a sociedade, essa malvada, poderia ter contra ele. A pior coisa que se pode fazer com pessoas como Mersault é deixá-las viver suas próprias vidas pelo máximo de tempo possível. (O que poderia ser mais desesperador?)
O estilo de Camus em O Estrangeiro, de frases curtas, simples, desconexas, é muito comparado a Kafka e Hemingway. Por isso, também é um livro muito utilizado em aulas de francês para estrangeiros (é o primeiro livro que muitas pessoas lêem em francês) assim como no Ensino Médio (onde eu li pela primeira vez). Muitas pessoas, que só lêem O Estrangeiro, acham que esse é o estilo de Camus, e nada poderia estar mais distante da verdade, como vimos nos trechos que citei de A Queda: o estilo de O Estrangeiro, bem especificamente, é o estilo de Mersault. É uma certa "escrita branca", um grau acima do silêncio, que comunica sem comunicar, que comunica no limite da comunicabilidade. O livro, como o próprio assassinato, parece ser fruto de circunstâncias fortuitas: parece ter sido escrito com a mesma apatia e distração com que o árabe foi assassinado. Um crime sem criminoso, um livro sem escritor.
O Estrangeiro é uma grande obra de arte justamente porque o seu estilo é inseparável de seu enredo e da sua mensagem: ele é um todo coeso. Na verdade, sua coesão está na sua ambigüidade que nunca dá trégua. Cada página reflete essa contradição intrínseca do inocente condenado por uma sociedade malvada pelo crime terrível que ele de fato cometeu.
Camus escreveu O Estrangeiro contra os "juízes", ou seja, contra a mentalidade pequeno burguesa da imensa maioria de seu público leitor. Para sua surpresa, ao invés de rejeitar o livro, ou de se identificar com os juízes, a vasta maioria de seus leitores se identificou com o "injustiçado" Mersault. Os juízes não se reconheciam nos juízes: os juízes também se achavam vítimas inocentes, não julgadores condenáveis. O público não apontou o dedo para si mesmo, não vestiu a carapuça que Camus costurou para ele.
Apesar de muitos leitores terem caído no “golpe de Mersault”, a começar pelo próprio Camus, ele também foi o primeiro a fazer uma crítica ao livro nesses termos, ou melhor, uma autocrítica. A teoria de René Girard no artigo em “Por um novo processo de ‘O Estrangeiro’” é que o romance A Queda, de 1956, é justamente a autocrítica madura de Camus por O Estrangeiro, de 1942.
Em O Estrangeiro, Mersault é o acusado e os advogados de defesa somos nós: somos nós que compramos sua versão e saímos do livro lamentando sua condenação, lamentando tanta injustiça. Em A Queda, o narrador é de fato um advogado de defesa, que ganha a vida defendendo clientes preferentemente culpados — como Mersault. Ou seja, é o nosso alterego. Tomou para si, em A Queda, o papel que foi nosso em O Estrangeiro, justamente para nos mostrar, para nos esfregar na cara, o quão ridículos nós fomos ao defender Mersault.
Se O Estrangeiro é uma acusação aos juízes, uma acusação que erra o alvo porque ninguém se reconheceu nessa posição de juiz, A Queda é uma acusação aos advogados de defesa, que somos, ou fomos, todas, especialmente de Mersault, e, quem sabe, de nós mesmas. Afinal, se os juízes se recusam a julgar e, na verdade, defendem os criminosos, eles se tornam advogados de defesa.
Narrado por um advogado de defesa, o tema principal de A Queda é o próprio conceito de julgamento:
“Não podemos afirmar a inocência de ninguém, mas podemos afirmar com certeza a culpa de todos. Todo homem é testemunha do crime de todos os outros — essa é minha fé e esperança. Não precisamos de Deus estabelecer nossa culpa e punição. Fazemos isso nós mesmos. Afinal, sempre existem razões para matar uma pessoa. Mas é impossível justificar sua vida. É por isso que o crime sempre encontra um advogado de defesa, a inocência quase nunca. E, já que não podemos ser todos inocentes, que sejamos todos culpados e condenados. Quando formos todos culpados, haverá enfim democracia. Temos q nos vingar do fato que morremos sozinhos. A morte é solitária, mas a escravidão é coletiva. Todos juntos, enfim, mas de joelhos e de cabeça baixa.”
O Estrangeiro ainda parece preso na dicotomia maniqueísta dos bons contra os maus, apenas invertida: aqui, o criminoso é inocente e os juízes, malvados. Em A Queda, essa questão é transcendida: não mais quem é bom ou quem é mau, não mais quem é inocente ou quem é culpado, mas por que todos nós nos julgamos tanto, o tempo todo?
O jovem Camus de O Estrangeiro não percebeu o verdadeiro problema do julgamento: ele se achava à parte do sistema, olhando de fora, ainda mais inocente que Mersault. Já Clamance, o advogado narrador de A Queda, não: ele sabe que está envolvido, sabe que é cúmplice. (Num dado momento ele diz: “Não tenho amigos: tenho cúmplices.”) Clamance sabe que nossos julgamentos sempre condenam, antes de tudo, a nós mesmas. Na verdade, até mesmo as nossas tentativas desesperadas de autodefesa nos condenam. Somos os juízes, os advogados, os algozes de nós mesmos. Todos os dedos que apontamos são sempre para o espelho, quer saibamos disso ou não.
Talvez o trecho central de A Queda, onde seu objetivo é explicitado e desnudado, seja:
“Você entende o que estou fazendo, meu querido? Quanto mais eu me acuso, mais direito eu tenho de julgar você. Melhor ainda, eu te provoco a julgar você mesmo, e isso me livra desse fardo.”
Em O Estrangeiro, Camus falhou em fazer o leitor julgar a si mesmo: seu leitor médio não se identificou com os juízes malvados e não refletiu sobre as vezes em que pode ter condenado outras pessoas só por serem diferentes ou excêntricas. Pelo contrário, pela recepção da obra, pelas resenhas, pela minha experiência em sala de aula, a vasta maioria das pessoas se identifica com Mersault e se sente vingada de todas as vezes em que foi julgada por pequenas excentricidades, mesmo que apenas em nossas cabeças.
Então, em A Queda, Camus torna a mensagem ainda mais clara: é impossível, é literalmente impossível, lermos a narrativa de Clamence e não refletirmos sobre nossas falhas, nossos julgamentos, nossas insinceridades.
A advogada de defesa generosa, de bom coração, que se considera acima de tudo, fora do sistema, e capaz de julgar os juízes, essa advogada de defesa que a maioria das leitoras se torna ao ler O Estrangeiro... já é uma juíza disfarçada. Só que ao invés de julgar e condenar abertamente, ele o faz escondido, discretamente, por debaixo dos panos.
Denunciarmos esse Outro que julga e que condena... já é nos considerarmos aptas e capazes de julgar e de condenar: já é criar um outro tipo, talvez pior por mais secreto, de julgamento. Se julgamentos precisam existir, se vamos sempre julgar umas às outras, que pelo menos sejam julgamentos abertos e públicos.
Por fim, a confissão final de Clamence, nas últimas páginas do livro, garante que ninguém saia da obra sem entender:
“Eu abracei a duplicidade ao invés de lutar contra ela. Pelo contrário, me acomodei nela e, finalmente, encontrei o conforto que estava buscando a vida inteira. Eu estava errado, afinal, quando te disse que o essencial era evitar o julgamento. O essencial é se permitir tudo, tudo mesmo, ainda que ocasionalmente vociferando contra a minha própria infâmia. Não mudei o meu estilo de vida: continuo só amando a mim mesmo e usando as outras pessoas. Só que, agora, a confissão dos meus crimes me permite recomeçar de novo, com o coração sempre leve, e ainda me permite um duplo prazer: o de gozar dos meus prazeres egoístas, e de confessá-los de forma sedutora e arrependida.”
Nunca mais ensino O Estrangeiro sem ensinar, na sequência, A Queda.
* * *
Quem somos nós?
Podemos especular que Mersault, um branco, só mata o árabe de forma tão fútil, como se ele fosse um inseto, porque, para Mersault, ele era de fato menos que um inseto.
Do mesmo modo, durante o julgamento, o promotor convenientemente ignora os detalhes do crime e se concentra no caráter de Mersault, talvez por saber que, para um júri de brancos franceses, ir ao cinema no dia da morte da mãe é um crime muito pior do que matar um mero árabe.
Tal qual estivesse no júri, as pessoas leitoras caem na mesma armadilha. Descoladas e moderninhas, sentimos repulsa pelo moralismo do promotor – coitadinho do Mersault, condenado por falar a verdade, por não ser hipócrita, etc – mas acabamos concordando com ele em relação aos fatos essenciais do caso. Deixamos o promotor desviar nosso olhar para longe do árabe morto na praia e não pensamos mais nele.
(Não só o promotor: as escolhas do autor Camus, a narração do personagem Mersault, tudo contribui para um apagamento do árabe enquanto pessoa.)
Jamais, em hora alguma, consideramos o árabe como um ser humano igual a nós, cujo bárbaro homicídio merece uma punição apropriada. Ou, no mínimo, arrependimento e contrição.
Nós, o júri, a acusação, Mersault, Camus, todos relegamos a humanidade da vítima para segundo plano. Ela não tem nome, não tem voz, não tem biografia, não tem subjetividade, nada.
Aliás, o que houve com a família da vítima, especialmente sua irmã, de cujo abuso Mersault participa ativamente? Não sabemos. Mersault, que nos conta com detalhes como ajudou Raymond a esculachar a moça, não tem nenhum interesse no que aconteceu com ela, no destino da família que ele destruiu.
E nós, pessoas leitoras? Temos? Enquanto vamos lendo, sentimos falta dessas informações que Mersault (e Camus) intencionalmente nos sonegam?
O livro nos aponta esse trêmulo dedo na cara: quando terminamos a leitura, estamos com pena de Mersault ou estamos incomodadas por ele nem mesmo se interessar por suas vítimas?
Você, você aí me lendo agora, seja sincera: você se perguntou pelo destino das vítimas? Essa informação fez falta pra você? Ou também se esqueceu completamente delas?
Não tenha medo de levantar o braço sozinha: eu também, na primeira leitura, não me dei conta e, em todas as minhas experiências de sala de aula, no Brasil e nos EUA, a esmagadora maioria das pessoas leitoras também não.
Sim, esse efeito, em larga medida, é causado pelas escolhas estéticas de Camus, mas, vamos lembrar, a leitura acontece num espaço virtual onde se unem, de um lado, o texto que o autor escreveu e, do outro, o olhar e a experiência de vida, as expectativas e os preconceitos, que nós aportamos.
Então, se nós também nos esquecemos das vítimas, o que isso diz sobre nós, sobre nossa ética, sobre para onde estamos direcionando essa nossa ó-tão-importante ó-tão-falada empatia?
O Estrangeiro é uma obra imortal porque, entre outras coisas, explica o vazio moral do século XX. O romance literalmente demonstra como o fascismo e o nazismo foram possíveis: demonstra no autor, no narrador, nas leitoras. Uma população tão crédula que se deixe levar por essa narrativa aparentemente inocente, ou tão anestesiada moralmente que se deixe desviar com tanta facilidade da questão fundamental – o homicídio — bem, essa vai ser a população que vai apoiar o nazismo e o comunismo, o macartismo e o golpe de 1964, o bolsonarismo e o trumpismo, o primeiro homem forte que fale bonito e tenha botas lustrosas pra lamber. Afinal, estávamos só cumprindo ordens.
A armadilha de O Estrangeiro é expor nosso próprio vazio moral, nossa própria cegueira, nossa própria empatia sempre falsamente depositada no homem, no branco, no europeu, no privilegiado.
(A última Prisão do Curso das Prisões será justamente a Prisão Empatia, onde vamos explorar essa questão mais a fundo.)
* * *
Esse texto é o roteiro da minha aula avulsa de fevereiro de 2023, que acontece hoje, dia 8 de fevereiro. Todo mês, na segunda quarta-feira, às 19h, eu dou uma aula de História ou Literatura, para as pessoas mecenas do meu Apoia-se. Como fevereiro é o mês da Verdade no Curso das Prisões, o texto também faz uma ponte com os temas discutidos na Prisão Verdade. Se esse texto te ajudou, abriu seus olhos, te fez enxergar as coisas de um jeito diferente, por favor, faça uma contribuição mensal regular. É disso que eu vivo. É isso que me possibilitar continuar lendo, escrevendo, produzindo, ensinando. Pix: eu@alexcastro.com.br / Apoia-se: apoia.se/alexcastro Outra maneira de ajudar é clicando nos links de livros desse texto: comprando na Amazon Brasil, eu ganho uma comissãozinha. Muito, muito obrigado.
* * *
Bibliografia
Bellos, David, “Introduction”, in Camus, Albert, The plague, The fall, Exile and the kingdom, and Selected Essays, Everyman’s Library, 2004.
Girard, René, “Por um novo processo de ‘O Estrangeiro’”, in A crítica no subsolo (1964).
Kaplan, Alice, Looking for The Stranger. Albert Camus and the life of a literary classic (2016).
Said, Edward, “Camus e a experiência colonial francesa” in, Cultura e Imperialismo (1993).
Shattuck, Roger, “Culpa, justiça e empatia em Melville e Camus”, in Conhecimento proibido (1996)