Porque ler literatura medieval no século XXI
Uma experiência estética de alteridade radical. (A Grande Conversa Medieval começa HOJE.)
Meu curso para 2024 e 2025, a Grande Conversa Medieval, começa hoje à noite.
Você pode entrar no curso a qualquer momento, e vai ter acesso às aulas anteriores e às nossas conversas animadíssimas no Whatsapp, mas o melhor, melhor mesmo é começar pelo começo, né? ;)
As leituras não são obrigatórias e o curso não é só para pessoas interessadas em Idade Média: pelo contrário, é um curso para redescobrirmos não só o gozo da literatura, mas também o gozo de ler uma literatura muito diferente, muito distante de nós e, ao mesmo tempo, tão próxima.
O curso é só para Mecenas do plano CURSOS: comprando agora, você já participa da aula ao vivo hoje à noite. :) Saiba mais na ementa, compre aqui ou continue lendo.
A Idade Média: lugar de alteridade por excelência
O conceito de Idade Média já é inventado como o lugar da alteridade por excelência.
Os renascentistas dos séculos XV e XVI, buscando recuperar, ou seja, fazer renascer, os valores da antiguidade clássica grecorromana, chamam de “idade média”, ou “tempos médios” esse intervalo de tempo, esse meio do caminho escuro, gigantesco e amorfo, cuja única característica seria separá-los dessa época de ouro que buscavam recuperar no seu presente histórico.
A Idade Média seria então, do ponto de vista dos renascentistas, o gigantesco saco de gatos onde seria jogado tudo que não fosse nem eles, nem os modelos e valores que buscavam recuperar.
Ou seja, a Idade Média é definida por eliminação.
Mesmo medievalistas contemporâneos, muito mais simpáticos ao período que os renascentistas, definem a Idade Média igualmente por eliminação, mudando apenas as balizas. Jacques Le Goff, por exemplo, um dos maiores medievalistas de todos os tempos, defende o conceito de uma “Longa Idade Média”, que iria desde o século III, quando o Cristianismo toma conta do Império Romano e encerra o mundo antigo, até o final do século XVIII, quando a Revolução Industrial inventa nosso mundo capitalista de hoje.
Reparem que o critério é o mesmo: a Idade Média, boa ou ruim, seria esse gigantesco meio do caminho entre “nós” – como quer que se defina “nós” – e o mundo antigo clássico grecorromano que continua pautando nossa vida, da democracia à filosofia.
Não bastando ser amorfa e definida por eliminação, a Idade Média quase sempre é definida negativamente também.
Quando se quer valorizar um poeta do século XIV, como Petrarca (1304-74), por exemplo, ele é chamado de “renascentista”, mas quando se quer criticar fenômenos essencialmente modernos como a Inquisição e a Caça às Bruxas, são chamados de “medievais”.
De novo, medieval parece ser tudo aquilo que não somos nós, e nem os nossos modelos – e que não é bom, nem desejável.
É por essa instabilidade de definições, que atinge tanto medievalistas quanto o público em geral, que a Idade Média é o lugar da alteridade por excelência.
A Antiguidade parece mais familiar que a Idade Média
Em comparação às brumas medievais, o mundo antigo, muito mais distante, nos parece estranhamente próximo e familiar.
Peças gregas como Édipo Rei (427 aEC) ou Antígona (442 aEC), ambas de Sófocles (497-406 aEC) são tão canônicas, tão imitadas, pautaram de tal maneira toda a arte ocidental posterior, que já não nos parecem terem sido escritas em um mundo distante e alienígena, com pressupostos culturais radicalmente diferentes.
Tucídides (460-400 aEC) e Platão (428-348 aEC) não nos parecem próximos por serem realmente próximos, mas porque efetivamente inventaram campos do saber que até hoje, em larga medida, ainda continuam pautados por suas contribuições.
Esses pioneiros antigos, mesmo quando seus aportes já se tornaram ilegíveis, ou cientificamente obsoletos, continuam dando o tom e pautando suas áreas do saber: os médicos de hoje já não lêem Hipócrates (460-377 aEC) mas continuam jurando por ele.
A transição entre a Idade Média e o nosso mundo também parece familiar
Na Europa dos séculos XV a XVIII, em um ritmo diferente em cada país, a progressiva recuperação, valorização, recanonização dessas obras clássicas da Antiguidade grecorromana já começa a criar o nosso mundo contemporâneo como o conhecemos.
É por isso que as obras produzidas nesses séculos de transição nos parecem às vezes distantes como as medievais, mas também estranhamente próximas, como as antigas e as contemporâneas: a maioria dos autos teatrais de Gil Vicente (1465-1536), por exemplo, compostos nas primeiras décadas do XVI, podem ser e são regularmente encenados no Brasil com mudanças mínimas no texto e ainda causam gargalhadas, ainda se comunicam o público.
Um romance pícaro como o espanhol Lazarilho de Tormes (c.1554) nos parece antiquado, mas também estranhamente familiar: sentimos que já se passa no nosso próprio mundo.
O Lazarilho, quando lido ao lado de um romance brasileiro como Memórias de um Sargento de Milícias (1853), escrito trezentos anos depois, parece não um antepassado distante e dinossáurico, mas sim um ponto diferente, e relativamente próximo, em um mesmo contínuo cultural de malandragem ibérica urbana.
Por fim, estudantes amam reclamar da dificuldade da linguagem de Shakespeare (1564-1616), mas a verdade é que se ele não fosse, em larga medida, nosso contemporâneo não seria possível, nem financeiramente viável, aliás, a Kenneth Branagh filmar o texto integral de Hamlet em 1996, sem tirar nem pôr uma palavra.
Quando termina a Idade Média
Na virada do XVIII para o XIX, esse processo de transformação finalmente se completa: em rápida sequência, as Revoluções Norte-Americana (1776), Francesa (1789) e Haitiana (1791), ocorrendo simultaneamente à longa Revolução Industrial, e coroadas pela emergência dos novos estados nacionalistas de inspiração européia nas Américas (c.1810), efetivamente criam o nosso mundo contemporâneo.
Romances europeus de meados do século XIX para frente, românticos ou realistas, escritos por Honoré de Balzac (1799-1850) ou Émile Zola (1840-1902), Eça de Queiroz (1845-1900) ou Benito Perez Galdós (1843-1920), tirando um outro detalhe, já se passam em nosso mundo, somente com menos tecnologia e mais conservadorismo.
Para muitos medievalistas, a Idade Média se encerra no começo desse processo, ou seja, no século XV. Para Le Goff e outros, a Idade Média só se encerra no final, quando o processo está completo, ou seja, no século XVIII. A diferença é quase trivial: a lógica é a mesma.
Textos medievais quebram a condescendência da leitura escrita sempre para nós
De fato, a literatura medieval – especialmente quando comparada a obras da Antiguidade clássica, como Édipo Rei (427 aEC) ou Antígona (442 aEC), de Sófocles (497-406 aEC); ou dos séculos XIX e XX, como Dom Casmurro (1899), de Machado de Assis, e A Montanha Mágica (1924), de Thomas Mann; ou até mesmo dos séculos de transição, como Dom Quixote (1605), de Miguel de Cervantes, e Robinson Crusoé (1719), de Daniel Defoe – ainda é, para nós, o melhor lugar para se conseguir uma experiência estética de alteridade radical.
Sem sair do nosso idioma, qualquer auto religioso de poucas décadas antes de Gil Vicente (1465-1536) já nos parece algo infinitamente mais distante que, digamos, o Auto da Barca do Inferno (1517), ou mesmo o Auto da Índia (1509) e, certamente, impossível de encenar nos palcos de hoje.
A produção historiográfica milenar de Tucídides (460-400 aEC) ou de Tito Lívio (59 aEC-17 EC), mesmo quando escrita em línguas mortas, nos parece infinitamente mais próxima e mais legível, comparte mais dos nossos códigos contemporâneos do que deve ser um texto historiográfico, do que as crônicas do primeiro grande historiador da nossa língua, Fernão Lopes (1385-1460), morto poucas décadas antes da chegada de Cabral ao Brasil.
Com alguns ajustes, podemos imaginar Tucídides dando aulas de História em alguma Universidade Federal, ou Tito Lívio escrevendo emocionantes livros de divulgação da História para o público-leigo, mas um Fernão Lopes no mundo de hoje é completamente inconcebível. Onde se encaixaria? Quem seria?
Não dá nem para começar a responder. É possível lermos Tito Lívio na ilusão de que ele está escrevendo diretamente para nós, que compartilha de nossos valores e prioridades, mas nunca Fernão Lopes.
Um texto medieval quebra a condescendência da nossa leitura habitual, acostumadas que estamos a textos que vêm até nós, que são escritos, editados, adaptados para o conforto da nossa leitura, e nos obriga a encarar e reconhecer que nem tudo foi feito e escrito para nós. Que alguns textos nos obrigam a sair de nossa zona de conforto e nos desafiam a irmos nós até eles.
São textos que não aceitam o ônus de serem facilmente compreensíveis e impõem a nós o ônus de entendê-los.
Textos de prazer versus textos de gozo
Mas, talvez o mais importante: são, por isso mesmo, os textos mais recompensadores.
Em O Prazer do Texto, o filósofo Roland Barthes (1915-80) divide a literatura entre “textos de prazer” e “textos de gozo”.
Texto de prazer seria “aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da leitura”.
Já “texto de gozo” seria aquele que põe a pessoa leitora em estado de alerta, desconforta, faz vacilar tanto suas bases históricas, culturais e psicológicas quanto a consistência de seus gostos e de seus valores, e até mesmo coloca em crise sua relação com a linguagem.
Ler “textos de prazer”, como os escritos por Marcel Proust (1871-1922) ou Liev Tolstoi (1828-1910), Balzac (1799-1850) ou Zola (1840-1902), palavra por palavra, vagarosamente, seria impossível, diz Barthes: “o livro nos cairia das mãos” de puro tédio. São leituras fluidas, confortáveis, que pedem um ritmo mais rápido.
Já um texto contemporâneo experimental – Barthes dá como exemplo o cubano Severo Sarduy (1937-93); no Brasil, poderíamos oferecer Guimarães Rosa (1908-67) – seria exatamente o oposto: se lido depressa, ele se torna opaco; na ânsia de ler rápido em busca dos fatos do enredo, a leitora não se daria conta que a atração do texto é o que está sendo feito com a língua em si.
Esses “textos de gozo” não podem ser engolidos ou devorados, mas sim “aparados com minúcia”, redescobrindo a leitura lenta, aristocrática, intensiva das épocas passadas.
Pois a própria razão de ser desses textos pós-modernos e iconoclastas seria justamente uma rejeição estrutural aos códigos de legibilidade antigos, neoclássicos, realistas, caretas.
No “texto de gozo”, o prazer viria dessa mesma ruptura, dessa “profunda rasgadura” que ele impõe à própria linguagem.
Literatura medieval e vanguardas experimentais
Não é à toa que existem tantos estudos sobre a medievalidade de Grande Sertão Veredas (1956), tantas leituras de Riobaldo e seus companheiros como cavalheiros medievais.
Nada na literatura brasileira, tirando deliciosos pastiches intencionais como as Sextilhas de Frei Antão (1848), de Gonçalves Dias (1823-64), é tão autenticamente medieval, compartilha de tal maneira os pressupostos e valores da Idade Média, como alguns de nossos romances mais brilhantes e experimentais, mais iconoclastas e pós-modernos, como o hors-concurs Grande Sertão: Veredas ou, até mesmo, um degrau abaixo, o brilhante Romance da Pedra do Reino (1971), de Ariano Suassuna (1927-2014).
Os gêneros literários dos séculos XV a XX, passando pelo neoclassicismo do século XVIII e pelo realismo careta do XIX, são autenticamente, resolutamente, intencionalmente anti-medievais.
Até mesmo os românticos do começo do XIX, que começaram o processo de revalorizar a Idade Média, não foram tão longe: Notre-Dame de Paris (1831), de Victor Hugo (1802-85), apesar de perfeito em si, é um romance romântico absolutamente ortodoxo somente ambientado na Idade Média.
Quem de fato recupera, desenterra, revitaliza a literatura medieval, sua fluidez lingüística, seu destemor arrebatado, essa sensação esfuziante de que tudo é possível, são as vanguardas mais experimentais do século XX em diante.
A literatura medieval é lugar de rebeldia contra a caretice do cânone realista
Para essas vanguardas, a literatura (neo)clássica, produzida a partir do Renascimento de acordo com os cânones da Antiguidade e tendo a legibilidade como valor máximo, era justamente o sistema hegemônico de caretice institucional que buscavam destruir.
Em guerra aberta contra tanto o mundo antigo quanto contra seu “renascimento”, aonde mais os vanguardistas iriam para “sorver uma seiva anterior à grande uniformização” do que a essa Idade Média ao mesmo tempo tão mais próxima e tão mais distante, tão mais selvagem e tão menos regulada, concebida e definida exatamente em oposição a esses dois mundos?
Enquanto Renascentistas buscaram seus padrões na Antiguidade clássica e repudiaram tudo o que era medieval, as vanguardas de hoje, rebeladas contra esse classicismo careta, abraçam a liberdade caótica, a falta de códigos, o não compromisso com a legibilidade, a instabilidade textual, a fluidez lingüística, a indefinição artística da Idade Média.
Uma literatura de alteridade radical
Tudo o que Barthes afirma tão entusiasticamente em relação aos textos vanguardistas contemporâneos e pós-modernos, escritos depois da ruptura com os cânones e valores literários neoclássicos (ou seja, em larga medida, esse estilo que começa a surgir no renascimento e atinge seu auge com o romance realista oitocentista), vale na mesma medida para a literatura medieval, escrita no intervalo entre o auge do cânone clássico grecorromano e sua recuperação paulatina a partir do século XV.
O gozo estético que a literatura medieval tem a oferecer à pessoa leitora do século XXI está justamente na alteridade radical dessa ruptura.
São textos muitas vezes escritos já nas principais línguas ocidentais que falamos hoje (português, espanhol, inglês, francês, alemão, italiano) mas em seus primórdios, quando tudo ainda era possível, quando todas as possibilidades ainda estava em aberto.
É uma oportunidade riquíssima de experimentarmos os diferentes caminhos que nossas línguas e literaturas poderiam ter seguido, em seus momentos fundacionais, em seus períodos de maior dinamismo, antes de começaram a se assentar, a se codificar, a se fossilizar.
As línguas ocidentais de hoje são polaróides do que eram no século XVI
Não é segredo que as línguas européias modernas mudaram mais em quaisquer cem anos de Idade Média do que do Renascimento até aqui, quando a popularização da imprensa basicamente puxou o freio de mão desse dinamismo: as línguas ocidentais, como as temos hoje, são polaróides do que eram no século XVI.
Nos quatrocentos anos entre Shakespeare (1564-1616) e nós, a língua inglesa se manteve bastante estável, especialmente em comparação às mudanças gigantescas que aconteceram nos duzentos anos desde a morte de Geoffrey Chaucer em 1400. Shakespeare já fala nossa língua, Chaucer ainda precisa ser traduzido.
Aliás, nem precisamos ir tão longe: a obra de Edmund Spenser, falecido em 1599 quando Shakespeare tinha 36 anos, já é famosamente ilegível. The Faerie Queene (1590) está mais próxima de Chaucer que de Shakespeare.
Poderiam ser feitas observações semelhantes para o português, o espanhol e o francês, mas não para o italiano, mais precoce.
A literatura medieval nos tira da nossa zona de conforto e exigem empatia radical
Ler textos medievais é uma experiência de alteridade radical: foram escritos em outras épocas, em outras línguas, em outras culturas, por pessoas com outras visões de mundo e para pessoas com outras visões do mundo, presumindo um outro tipo de pessoa leitora, que sabia coisas que já não sabemos e que tinha expectativas e prioridades que já não são as nossas.
A literatura medieval é aquela que ativamente nos impede de apenas receber passivamente um texto feito sob medida para nosso conforto.
Pelo contrário, são textos que nos obrigam a sair dessa zona de conforto e ir em direção a eles, a encontrá-los no meio do caminho e negociar seus significados, que nos obrigam à operação empática radical de tentar nos colocar no lugar de quem os escreveu e, talvez mais importante, de quem originalmente os recebeu.
De que maneira as pessoas a quem texto estava destinado não são eu? O que eu tenho que elas não têm? O que elas tinham que eu não tenho? Fundamentalmente, quem sou eu, e quem são elas?
Enfim, é um exercício de alteridade radical que nos faz questionar nosso lugar e nossa identidade, nossas certezas e nossas premissas.
A literatura medieval nos convida a sair de nós mesmas
Nas aulas de História, talvez a coisa mais difícil de comunicar às alunas de hoje é o quão fundamentalmente alienígena é o passado.
Uma mulher que morreu em 1310 não era alguém que pensava e sentia como nós, mas somente nasceu em outra época e nunca teve iPhone.
Pelo contrário, ela possuía cosmovisão radicalmente diferente, que fazia com que seu relacionamento com os outros, consigo mesma e com a realidade, fosse fundamentalmente distinto do nosso.
Conceitos que são parte integrante da nossa visão de mundo, da infância à heterossexualidade, ainda não existiam.
Nós subestimamos o quanto de nós, dessa nossa individualidade que nos parece tão única e tão profunda, é fruto dos pressupostos compartilhados da época que nos coube viver.
O peixe não só não enxerga a água, como às vezes nem acredita que ela exista.
A literatura medieval, se lida de peito aberto, ao chamar nossa atenção para a água que rodeava essas pessoas, nos permite ver, ou ao menos pressentir, a água que também nos rodeia.
A literatura medieval nos salva da condescendência de achar que somos a medida do mundo
Esse experimento de alteridade radical, porém, só funciona com a nossa colaboração ativa.
Se lermos com condescendência, não só passaremos o tempo todo zoando dessas pessoas “que se achavam tão inteligentes, mas acreditavam que o Sol girava em torno da Terra”, como também deixaremos de perceber o fato mais importante: se as pessoas medievais eram pautadas e limitadas pela cosmovisão medieval do mundo, nós também, pela nossa.
Daqui a mil anos, quais das nossas ignorâncias as leitoras do futuro estarão caçoando?
Ler literatura medieval é justamente o que nos salva da condescendência de achar que somos a medida de todas as pessoas de todas as épocas.
Ler as palavras de uma pessoa morta há séculos, pela mágica que só a literatura pode nos proporcionar, é mergulhar na subjetividade de um Outro que é muito mais Outro do que qualquer Outro vivo hoje jamais poderia ser.
* * *
O curso é só para Mecenas do plano CURSOS: comprando agora, você já participa da aula ao vivo hoje à noite. :) Saiba mais na ementa ou compre aqui.
Te vejo em breve. ;)












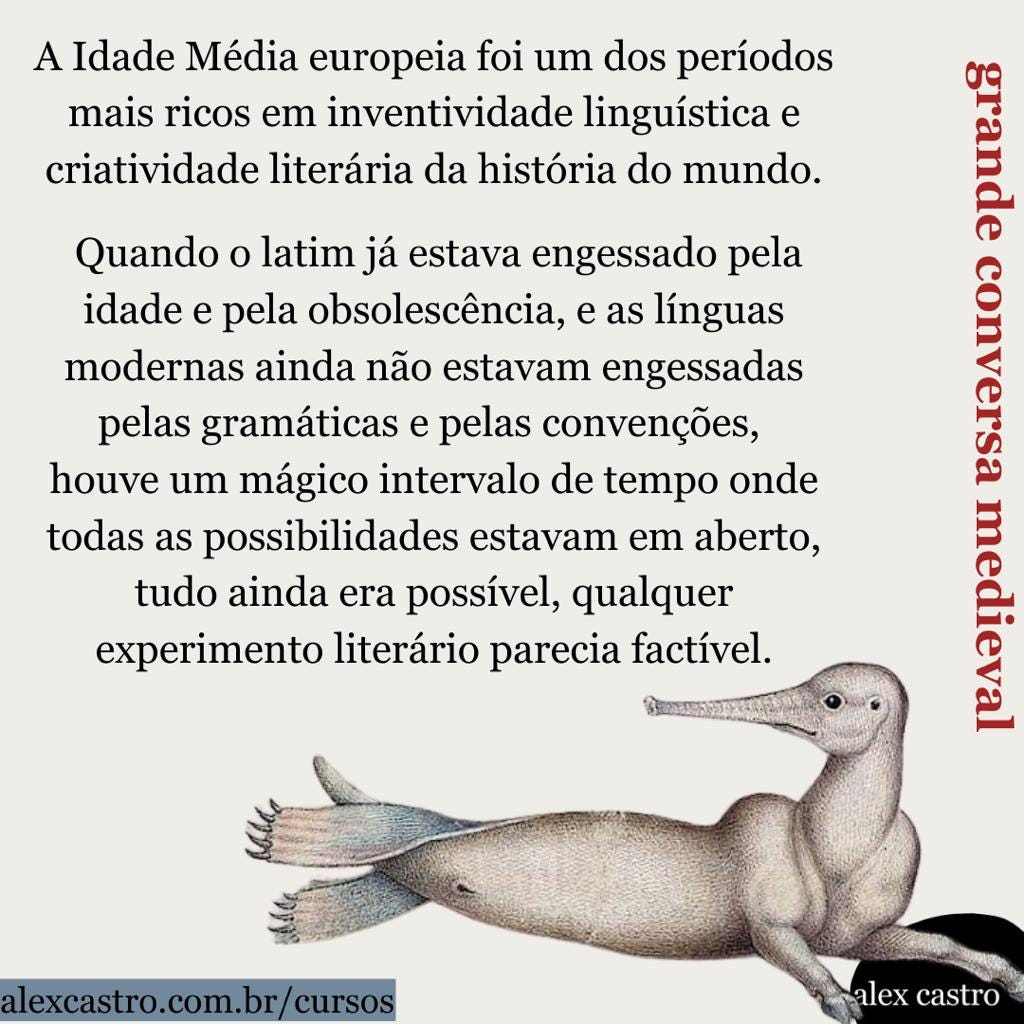





OTIMO