O nacionalismo e o patriotismo, esses mentirosos
A grande mentira do nacionalismo é ter nascido ontem e se fazer de eterno
Sentimos o nacionalismo como algo tão forte e tão sólido que nem parece que foi inventado menos de duzentos anos atrás. Curiosamente, uma de suas características definidoras é justamente se fazer de eterno.
Daqui a uma semana, na terça, 18 de janeiro, começa o meu curso História do Mundo Enquanto Fofoca. Aqui vai uma palhinha da 7ª aula, Revoluções: seu assunto, entre outros, será a invenção do nacionalismo no século XIX.
(Está rolando um preço promocional só até o início do curso, dia 18, terça que vem!)
* * *
A origem recente do nacionalismo
A ideia moderna de nação só pode surgir quando desaparecem três concepções:
1. a ideia de que uma determinada língua era melhor do que as outras, era um veiculo melhor para estudo, leitura, comunicação com o transcendental, acesso à verdade cósmica. (Sem essa ideia, o cristianismo e o islamismo não teriam se tornado religiões transcontinentais.) Não é nem que o latim era a língua mais ensinada da Europa medieval: era a única, a única língua que se considerava que valia a pena instruir. Apenas isso, criava uma unidade transnacional de intelectuais cristãos, educados em latim, fluentes em latim, que podiam ler os livros uns dos outros. (O primeiro mercado editorial, assim que a imprensa é inventada, no século XV, é continental.) Mas isso não dura muitos. De 88 livros impressos em Paris em 1501, só um não era em latim. Após 1575, é sempre uma maioria esmagadora em francês.
2. que a sociedade se organizava naturalmente em torno de centro irradiadores e originadores de soberania, como os reis que reinavam por direito divino, que simbolizavam concretamente a coletividade, através da graça divina, e só era possível um acesso à verdade das coisas não apenas através da linguagem sagrada, mas por intermédio desse centro.
3. Uma noção de tempo medieval era diferente da nossa: havia a ideia de uma simultaneidade ao longo do tempo, uma ideia que a origem dos homens e do universo era a mesma, onde cosmologia e historia se confundem. (Falei um pouco sobre essa noção de tempo nas aulas de Idade Média e Auerbach.) Seria inconcebível, por exemplo, representar a Virgem Maria com traços semíticos ou com roupas do século I, como tentamos fazer hoje, para “recuperar como as coisas realmente se passaram”, porque o medieval não considerava a história como uma cadeia interminável de causa e efeito, nem imaginava separações radicais entre o presente e o passado. Quando um pensador medieval associava o quase sacrifício de Isaac ao sacrifício de Jesus, não era horizontalmente, como se um evento se seguisse ao outro horizontalmente em um nexo causal, mas verticalmente, ambos eventos apontando para cima, sua ligação sendo a vontade de um Deus soberano, o que os torna, na prática, simultâneos. (Na verdade, essa concepção temporal não desapareceu e qualquer pessoa que já tentou ensinar história para grupos subalternos ou pouco escolarizados percebe a enorme dificuldade que possuem de conceber um passado que seja radicalmente, fundamentalmente diferente do presente. Ensinar história é todo um processo de vencer, superar, gravar por cima dessa mentalidade.)
O nacionalismo moderno é uma criação do “capitalismo editorial”. Livros nas línguas vernáculas, ou nas mais línguas mais faladas, são impressos em maiores números do que nas línguas menores, mais localizadas, mais regionais. Assim, as línguas que eram línguas francas de regiões se tornam, ao longo dos séculos, línguas nacionais: castelhano vira espanhol, toscano vira italiano.
O surgimento dos jornais diários, no final do XVIII, também possibilita pela primeira vez essa união imaginária, filosófica, cuja potência se perdeu pelo uso: mas é poderoso imaginar que, em 1800 e poucos, uma multidão de centenas de milhares de pessoas acordando e lendo e ouvindo o mesmo jornal, as mesmas palavras, ao mesmo tempo. A sensação de união e de irmandade q isso causava era incrível.
A própria obsolescência programada do jornal (o primeiro produto a ter isso) ajuda em sua liturgia: ele tem que ser lido, consumido hoje, ou amanha estará velho e inútil. O seu consumo é simultâneo através da horizontalidade da sociedade que ele engendra. Dizia Hegel (na alvorada desse processo) que para o homem moderno ler o jornal matinal era o novo substituto da oração: em um século XIX onde Deus já não era mais tão importante, a cerimonia matinal era se irmanar com a sua coletividade nacional, de fazer essa pequena ação, quase sempre solidária, mas que se sabe simultânea com milhares, milhões de seus conterrâneos que ele não conhece nem tem como conhecer.
Outra coisa que causa a ascensão do nacionalismo é a ascensão da burguesia. Uma nobreza podia agir como nobreza se fosse analfabeta. Uma burguesia analfabeta era impensável. Ela foi a primeira classe a construir sua solidariedade literariamente, através da palavra escrita, uma solidariedade limitada pela língua. O jornal e o livro também tem outra característica q os distingue dos bens duráveis: qualquer pessoa pode dirigir um carro alemão, mas só pode ler um livro ou jornal alemão quem fala alemão.
(Referências: Nações e nacionalismo desde 1780, de Eric J. Hobsbawm; Comunidades imaginadas, de Benedict Anderson; História contemporânea, Da Revolução Francesa à Primeira Guerra Mundial, de Luís Edmundo Moraes.)
* * *
Os laterais possíveis da História
O mundo em que vivemos não é o único que poderia ter sido. A História tende a apagar a própria História: de tanto ser repetida e estudada pelas novas gerações, ela se transforma em predestinação e nos apresenta o mundo de forma naturalizada, como se tudo tivesse acontecido exatamente como tinha de acontecer. O castigo pela derrota é a exclusão retroativa da existência. Quem esteve a um triz da vitória total desaparece como se nunca houvesse nem mesmo competido. Os “laterais possíveis” desaparecem.
Mas o mundo foi construído para ser do jeito que é hoje. Ele poderia facilmente ter sido construído de maneira diferente. E pode, ainda hoje, ser desconstruído e reconstruído. Para isso, entretanto, precisamos conhecer as pessoas coadjuvantes, as derrotadas, as esquecidas da História.
Os grupos jacobinos que não conseguiram tomar o poder durante a Revolução Francesa. Os grupos anarquistas que não conseguiram fazer frente aos bolcheviques. As rebeliões regionais que não conseguiram separar o Brasil durante a Regência. Os franceses protestantes que não conseguiram fazer da Baía de Guanabara um novo lar para exercerem sua religião.
Talvez suas causas fossem até erradas. Talvez estivessem mesmo na contramão da História. Com certeza, fracassaram de forma espetacular em seus objetivos. Mas vale a pena falar nelas nem que apenas para sempre lembrar que nada estava predestinado.
(Referências: Meditações Pascalianas, de Pierre Bourdieu; A Formação da Classe Operária Inglesa, de E. P. Thompson.)
* * *
O patriotismo é o culto aos vencedores
A História, disciplina criada para validar e dar arcabouço ideológico aos jovens Estados Nacionais do século XIX, já nasceu do lado dos vencedores. Não existe patriotismo possível sem uma História Nacional renovando-o e naturalizando-o de geração em geração.
Os atuais grupos dominantes são herdeiros dos antigos conquistadores. O discurso patriótico que canta as vitórias nacionais passadas sempre beneficia os atuais poderosos. Todos os vencedores, de todos os tempos, participam da mesma procissão triunfante, na qual os dominantes de hoje pisam e passam por cima das massas derrotadas, confirmando, ilustrando e validando sua superioridade, e trazendo nas mãos seu botim de guerra: a cultura. Os pretensos tesouros culturais da humanidade.
Por isso, não pode existir nenhuma obra de arte que não seja ao mesmo tempo um inventário e um testamento de barbárie. Que não esteja ensopada de sangue. Que não seja cúmplice dos poderosos.
O desafio é utilizar nossa boa, velha e ensanguentada História Nacional para promover um novo tipo de patriotismo, um patriotismo que subverta e quebre a continuidade histórica da narrativa dos vencedores, que recupere as tradições revolucionárias dos vencidos, que exponha a mentira da naturalização do mundo, que nos convide a todas a recriar esse mundo de acordo com desejos e aspirações mais igualitários e mais humanos.
O Davi, de Michelângelo, não é inocente dos crimes dos financistas florentinos. Dom Casmurro não é inocente dos crimes da escravidão. Nós não somos inocentes do Amarildo.
(Referência: Teses sobre o conceito de história, de Walter Benjamin.)
* * *
A pátria é uma desmemória coletiva
A essência de uma pátria é a memória coletiva de suas integrantes. Uma das principais diferenças entre pessoas uruguaias e brasileiras é que todas as uruguaias sabem quem foi Artigas (feroz inimigo do Brasil, maior herói nacional, “Jefe de los Orientales”, “Protector de los Pueblos Libres”, etc) e aqui, quase ninguém. Por outro lado, aqui sabemos quem foi Tiradentes e lá, não.
(Um exemplo: a batalha de Tacuarembó, em 1820, foi a última e mais decisiva do conflito que chamamos de Guerra contra Artigas — um nome interessantemente personalista, como se o Brasil estivesse lutando só contra um homem e não contra o desejo de independência de todo um povo. A derrota dos uruguaios em Tacuarembó sepultou seu sonho de autonomia por dez anos, selou o domínio luso-brasileiro do país e foi a última batalha de Artigas, que se retirou para o Paraguai e nunca mais voltou para a sua terra. O comandante português que derrotou decisivamente o maior herói uruguaio foi José Maria Rita de Castelo Branco. Mas, do ponto de vista luso-brasileira, essa batalha é tão insignificante que a página da Wikipédia em português dedicada a ele nem mesmo menciona sua vitória.)
Talvez ainda mais importante, a essência de uma pátria é a desmemória coletiva do seu povo. As pessoas uruguaias são as que esqueceram a guerra civil fratricida que passou para a História com o sugestivo nome de Guerra Grande, entre 1836 e 1852, deixando o país enfraquecido e destruído (e, aliás, novamente dominado pelo Brasil) enquanto as brasileiras são as que esqueceram que o seu país matou quase todos os homens adultos do Paraguai e ocupou o país por onze anos, um período no qual, entre muitas coisas, foi legalizada a poligamia.
Ignorar é bem diferente de esquecer. O Brasil esteve profundamente envolvido na Guerra Grande uruguaia e pode-se argumentar que foi inclusive o seu maior vencedor e beneficiário. Mas a memória dela já se perdeu completamente no nosso imaginário nacional. Não é nem mencionada nas salas de aula e nos livros didáticos. Já a escravidão, o massacre das pessoas indígenas e a Guerra do Paraguai, para citar apenas três exemplos, são coisas que praticamente qualquer pessoa brasileira sabe, nem que apenas esfumadamente.
Sabemos que nossos antepassados brancos mataram quase todas as nossas antepassadas indígenas. Sabemos que nossos antepassados brancos escravizaram quase todas as nossas antepassadas negras. Sabemos que nosso país ganhou uma guerra contra o Paraguai e que fizemos coisas terríveis por lá. Às vezes, não sabemos mais nenhum outro detalhe. Mas sabemos o suficiente para saber que precisamos ativamente esquecer o que sabemos todos os dias.
Sempre que uma pessoa brasileira branca cruza com uma pessoa negra na rua, ou vai opinar contra as cotas raciais, ela precisa esquecer ativamente a escravidão. Sempre que uma pessoa brasileira urbana lê uma matéria jornalística sobre Belo Monte, ela precisa ativamente esquecer o massacre dos indígenas. Sempre que falamos no caráter pacífico do povo brasileiro, precisamos ativamente esquecer a Guerra do Paraguai.
E não só essa guerra, aliás, mas todos os outros massacres e violências dos quais já tomamos conhecimento, de Canudos a Pinheirinhos, enfiando-os todos em um hiperlotado porão de horrores da memória nacional, sempre torcendo para o porão não explodir em nossa cara.
O homem que nunca esquecia nada, Funes, o Memorioso (por acaso, uruguaio), nos ensina que para lembrar todos os detalhes de um dia é preciso perder um outro dia inteiro recordando-o. Um custo alto demais.
A questão, portanto, é outra: como a História é a arte de esquecer algumas coisas e lembrar outras, então o que queremos lembrar e o que queremos esquecer? Qual é o nosso patriotismo?
(A citação sobre a desmemória coletiva das nações é do historiador francês Ernst Renan e está mencionada no primeiro e, depois, desenvolvida no décimo capítulo de Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson, o melhor livro que conheço sobre nacionalismo e patriotismo. Muitas das ideias desse meu texto vêm de Anderson, apesar de ele ter uma visão bem mais positiva desses fenômenos do que eu.)
* * *
Por um patriotismo das vítimas, das derrotadas, das esquecidas
É fácil celebrar os vencedores da História do Brasil, os homens poderosos que construíram o país onde vivemos hoje. Mas por que não celebrar suas vítimas? Por que não celebrar quem foi morta, atropelada, deixada de lado na estrada pelo projeto de Brasil que acabou vencendo? Por que não celebrar quem era monarquista durante república e republicana durante a monarquia? Talvez essas pessoas, mortas e derrotadas há tanto tempo, ainda tenham lições valiosas a ensinar às anti-consumistas da sociedade de consumo, ou às militantes trans da sociedade cis.
Durante a década mais movimentada e mais esquecida de nossa História, entre os reinados de Pedro I e II, a falta de um governante central com legitimidade inquestionável fez explodirem diversos conflitos regionais antes recalcados. O Brasil, como hoje o conhecemos, quase se desfez. Só no Pará, a repressão à Cabanagem fez 20 mil vítimas. (Para efeitos de comparação, a população de Belém no início da rebelião era de 12 mil.)
Talvez vivêssemos hoje em diversas repúblicas sul-americanas lusófonas. Teria sido melhor? Teria sido pior? Quem sabe. Depende para quem. Sempre depende pra quem.
Mas os vencedores — como sempre fazem, como sempre esteve predestinado que aconteceria — venceram. Seu legado (nosso legado) é esse Brasil uno, grande e poderoso que derramaram tanto sangue para construir em nosso nome.
Graças a esses vencedores, durante todo o século XIX, desfrutamos de poder militar suficiente para roubarmos território de todas as repúblicas vizinhas. Algumas vezes, usamos de força bruta. Em outras, usamos intimidação e diplomacia para ratificar os territórios que os bandeirantes já haviam roubado por meio de força bruta nos séculos anteriores.
Hoje, o Brasil tem mais que o dobro do tamanho que deveria ter de acordo com o Tratado de Tordesilhas. (Por trás de todo território, há sempre no mínimo um ato fundacional de violência.) Quem sabe, se não fossem por esses bandeirantes, por esses militares, por esses diplomatas, por todos esses vencedores que exploraram, mataram, roubaram em meu nome, eu não teria a variedade de opções profissionais que meu colega salvadorenho não tem. Quem sabe. Mas sou ingrato.
Não quero celebrar quem construiu esse país pujante que tantas escolhas que me deu. Meu patriotismo não é o patriotismo de Borba Gato, do Duque de Caxias, do Visconde do Rio Branco. Quero celebrar as vítimas desse projeto nacional. Quero celebrar quem morreu em meu nome.
Meu patriotismo é o patriotismo de Eduardo Angelim, de Zumbi dos Palmares, de Amarildo da Rocinha. Dos bolivianos do Acre e dos paraguaios do Guairá. Dos parakanã de Belo Monte e dos tamoios da Guanabara. Minha pátria é a pátria dos caciques e dos canudenses, dos quilombolas e dos favelados.
* * *
História do Mundo Enquanto Fofoca
Um panorama da história mundial, com foco no Ocidente, desde a pré-história até a Queda do Muro de Berlim. 12 aulas semanais, terças das 19h às 21h, entre 18 de janeiro e 12 de abril de 2022. Sem leituras obrigatórias.
(Está rolando um preço promocional só até o início do curso, dia 18, terça que vem!)





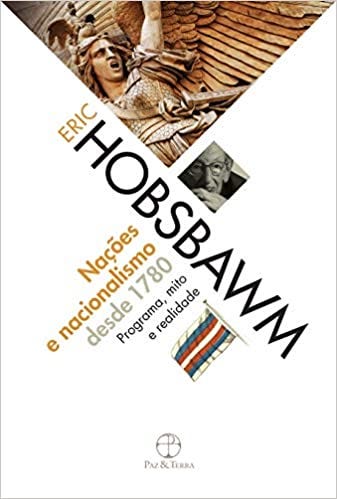
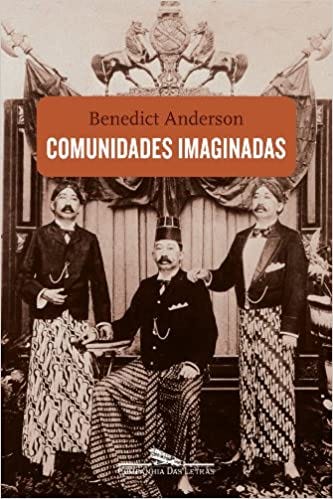
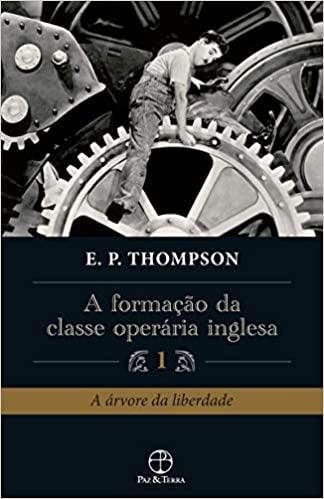
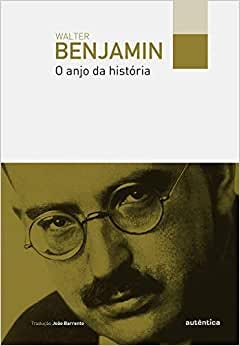

Excelente como sempre , nos ensinando história de uma forma clara - direta e reflexiva